Eduardo passou meses em missão pelo Exército, enfrentando o calor sufocante, o barulho dos tiros e o medo constante de não voltar. Mas nada o preparou para o que encontrou ao retornar para casa.
Ao descer do ônibus numa tarde abafada de fevereiro, tudo parecia no lugar na pequena cidade onde morava. As mesmas crianças correndo descalças atrás de pipas, os postes tortos e o rádio antigo tocando sertanejo ao longe. Mas havia algo errado. A grama alta do quintal, as janelas fechadas, o cheiro de abandono…
Ao girar a chave e empurrar a porta de casa, o que viu foi o começo de um pesadelo que nenhum campo de batalha poderia ensinar a enfrentar.
Na cozinha, sua filha, Lia, ajoelhada no chão, comia o que restava no pote de ração do cachorro. Não chorava, não gritava. Só mastigava em silêncio. A camiseta suja, os cabelos presos de qualquer jeito, a pele fina de quem há muito não via um prato cheio.

Eduardo congelou. Aquilo quebrou algo dentro dele. A menina que deixou risonha e bem cuidada estava irreconhecível. Tentou se aproximar devagar, mas ela recuou instintivamente, protegendo o pote como um animalzinho com medo.
Quando finalmente conseguiu pegá-la no colo, sentiu o peso leve demais, a ausência de abraço, o silêncio de quem não sabia mais se podia confiar.
A casa inteira gritava abandono: comida estragada, geladeira desligada, brinquedos empoeirados, roupas sujas acumuladas. E em cada canto, a ausência de cuidado.
Lia contou que a tia Viviane havia prometido voltar, mas desapareceu. A luz cortada, o telefone mudo, o medo de sair à rua e encontrar o homem que gritava todas as noites lá fora. Sozinha, isolada, esquecida.
No quarto dela, um desenho com a frase: “Hoje é o dia que o papai volta.” Mas era antigo. Ela esperou. E esperou. Até parar de esperar.
No diário escolar, rabiscos tristes: “A tia não voltou. O cachorro sumiu. Desenhei o papai pra não esquecer o rosto dele.”
Eduardo chorou. Não havia trincheira que o preparasse para aquilo. Decidiu ali mesmo: não voltaria para o quartel. Sua missão agora tinha um novo nome.

Nos dias seguintes, limpou a casa, lavou roupas, consertou brinquedos, arrumou a cozinha, abriu as janelas e tentou devolver a cor à infância de Lia. Construiu uma mesinha de madeira com as próprias mãos, e foi ali que ela desenhou, pela primeira vez, algo diferente: uma casa aberta, um homem de barba, uma menina sorrindo com um cachorro no colo.
“Você quer um cachorro?”, ele perguntou.
“Quero um que também tenha ficado sozinho”, ela respondeu.
Dias depois, Eduardo decidiu enfrentar o passado. Procurou Viviane, que havia prometido cuidar de Lia. Encontrou-a abatida, envergonhada, sem desculpas. Ela confessou que havia perdido o emprego, a força, a coragem. Disse que saiu para pedir ajuda… mas teve vergonha de voltar.
Ele não gritou. Apenas disse: “Você sabe o que ela comeu? Onde ela dormiu?”
Viviane apareceu na porta no dia seguinte, com pão e leite. Não pediu perdão, só quis saber se ainda poderia ajudar — nem que fosse do outro lado da rua.
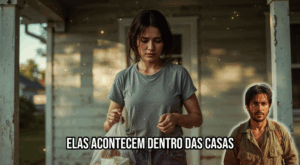
Lia, em silêncio, se aproximou dela. Não abraçou, não sorriu. Mas também não se afastou. Apenas sussurrou ao ouvido:
“Se você ainda lembra de quando me chamava de pedacinho bom da vida, então talvez ainda dê pra consertar.”
E naquela casa simples, onde antes morava o abandono, nasceu um novo começo. Feito de pequenos gestos, janelas abertas, comida no fogo e silêncio compartilhado.
Porque algumas guerras não deixam feridas no corpo, mas cicatrizes na alma. E o que reconstrói não são promessas, mas a decisão de ficar.
News
Entre festas, filhos e tensões familiares: os bastidores do drama envolvendo Neymar, Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly
Nos holofotes desde o início da carreira, Neymar agora vive um novo capítulo fora dos gramados — e ele é…
A história emocionante de Lyanna: como um gesto simples transformou vidas em um hotel de luxo
No brilho dourado de um suntuoso hotel, onde candelabros reluziam e o luxo dominava, um momento carregado de tensão chamou…
A Noiva Esquecida: Como um Simples “Por Que Ela Está Sozinha?” Transformou Uma Noite de Casamento
Era uma noite de verão, com luzes delicadas penduradas no jardim, iluminando um casamento luxuoso onde todos pareciam felizes, rindo…
Uma noite de tempestade, um gesto de bondade e uma transformação inesperada
Era uma noite de chuva intensa, daquelas que parecem pesar não só no ar, mas também na alma. O vento…
Neymar é flagrado usando inalador após derrota do Santos e responde com ironia às provocações
Poucos dias após a derrota do Santos para o Corinthians pelo Campeonato Paulista, uma imagem de Neymar chamou a atenção…
Amanda Kimberle explica por que não planeja batizar sua filha Helena, fruto do relacionamento com Neymar
Amanda Kimberle, modelo e mãe da pequena Helena, fruto de seu breve relacionamento com o jogador Neymar, revelou recentemente o…
End of content
No more pages to load












